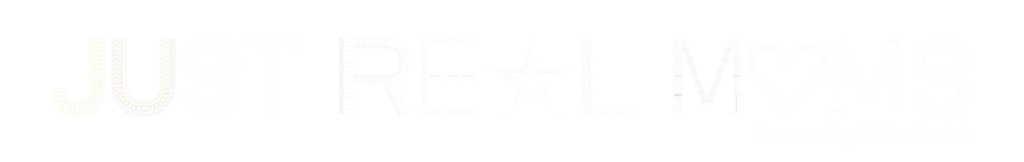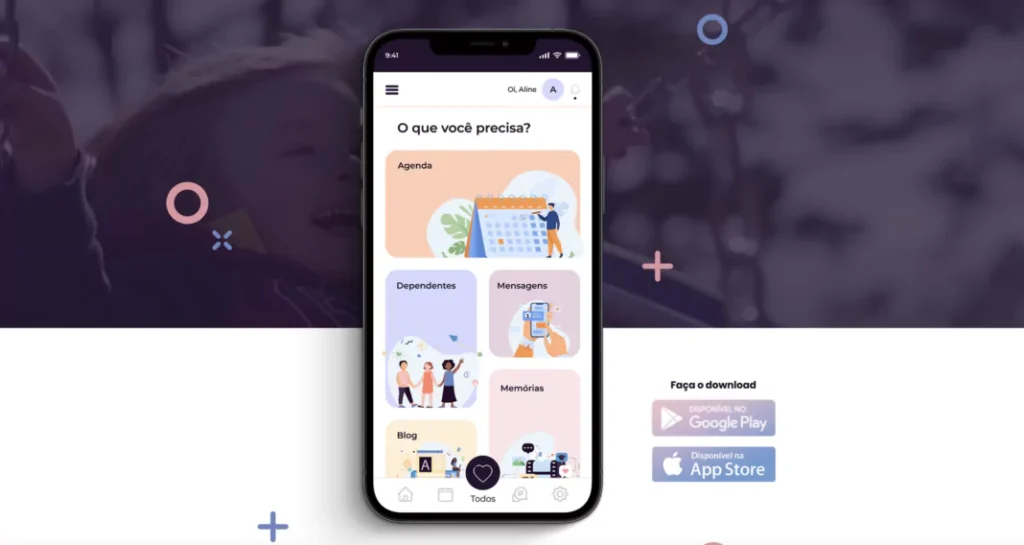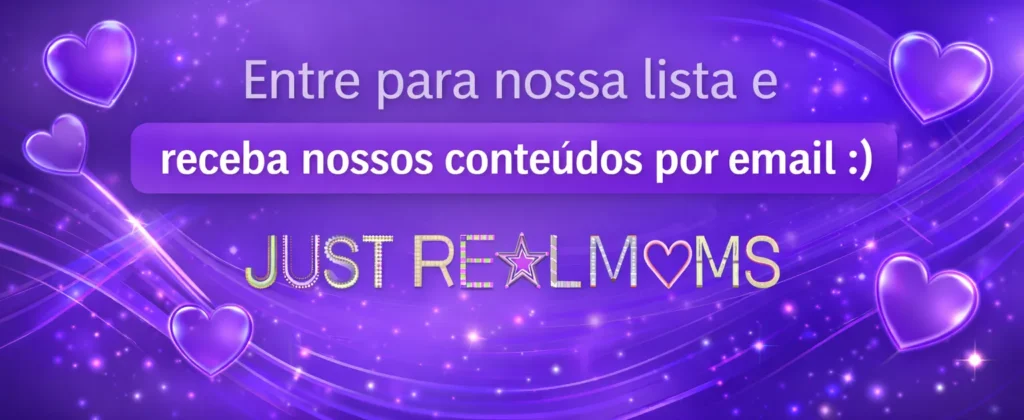Vamos falar de Depressão Pós-Parto? “Agora eu era casa. Agora eu era dele. E agora eu era mãe, e jamais deixaria de ser. Nem morta. Presa numa armadilha perpétua da vida.”

Oi Mamães! No relato de hoje, Bia Singer conta sobre a sua longa jornada com a Depressão Pós-Parto (DPP).
Você sabia que 1 em cada 4 mulheres podem sofrer de Depressão Pós Parto?
A DPP não depende de idade, etnia, condição social…e é importante saber que ela tem tratamento e sim…ela irá embora!
Normalmente, ela aparece nas 3 primeiras semanas após o parto, porém muitas talvez não saibam que ela pode aparecer meses depois.
A Depressão Pós-Parto é classificada em 3 diferentes tipos*:
• Tristeza materna – a mãe tem mudanças súbitas de humor, como sentir-se muito feliz e depois muito triste
• Depressão pós-parto – pode acontecer por alguns dias até meses depois do parto de qualquer bebê, não só do primeiro
• Psicose pós-parto – a mulher pode perder contato com a realidade, geralmente tendo alucinações sonoras.
Muitas mamães famosas como Isis Valverde, Samara Felippo, Gwyneth Paltrow, a tenista Serena Williams, Ana Furtado, Courtney Cox (a Monica do F.R.I.E.N.D.S.), entre muitas outras, também estão ajudando a quebrar o tabú sobre esse assunto, compartilhando relatos e fazendo esse momento menos solitário.
Veja abaixo o relato da Bia, e deixe seus comentários lá no final!
A gente sempre ouve por aí que não nos arrependemos tanto por tentar e errar, e sim por desistir sem tentar. Quando meu filho nasceu, o chavão foi abaixo. Naquela hora, tinha certeza de que meu maior erro foi ter ido em frente, ter tido um filho.
Ingênua, eu me achava pronta para me enterrar e renascer; morrendo menina, nascendo mãe. Não houve urros primitivos no parto. Também não houve conexão, mas eu fingia para tentar me convencer do contrário, como alguns palhaços riem primeiro para depois ficarem felizes.
No primeiro momento, beijei-o e chorei o choro dos finalmentes. Queria ter podido segurar meu rebentinho, dar-lhe o peito com seu quase nada saindo, um quase nada que era pura vida. Alguns minutos depois e lá foi meu pequeno pacote roxo nas mãos de uma enfermeira, antes da hora e ao mesmo tempo atrasado.
Eu tinha muito medo, sabe? Um medo desmedido, sem fundamento algum, mas real como o bebê ali na minha frente. Eu tinha medo de um ser tão frágil.
Medo de fazer um movimento errado e meu sonho se esvair e, ironicamente, medo deste mesmo sonho tão desejado de fato durar para sempre. Eu tinha medo da enrascada, do beco, do poço, do precipício. Medo a cada chorinho, a cada demanda.
Veio devagar, a ansiedade, e minha avalanche pessoal foi ganhando força, acumulando pequenos desesperos.
No último dia de hospital, meu choro espantou as últimas visitas. Eu ainda não estava arrependida, mas começava a entender que deveria ter valorizado uma vida sem o coração na mão.
Ainda no hospital – enquanto enfermeiras manobravam meu peito como uma pistola mirando a boca do meu filho e mediam minha pressão com a empolgação de uma funcionária dos Correios – conversei com meu psiquiatra. Já sabia que aquilo não era normal.
Fiquei sem entender quando bateu uma angústia imensa no caminho do hospital para casa. Eu, sentada no banco de trás com meu bebê e meu marido dirigindo. Em vez de achar aquilo lindo, achei desesperador pensar quanto tempo demoraria até eu voltar a sentar no banco do passageiro.

Cinco dias depois do nascimento foi quando realmente aquele planeta, junto com meu leite, desabou sobre a Terra.
Acabou o sonho, a viagem, a idiotice de achar que teria direito a ser feliz. Como parar de tremer, chorar, gritar? Como cortar essa cabeça fora? E, como não se matar?
Já tinha pronta a carta de despedida à minha família para que entendesse meu desejo, minha escolha de parar de sofrer, minha decisão meticulosa.
Morrer é uma coisa boa. É descanso, fim de tristeza, ausência de ansiedade, dormir sem apneia, sem sonhar, sem acordar. Eu abracei a morte, não foi ela que me abraçou.
Estou feliz com minha escolha, saibam disso.
Aí eu lembrava que não podia mais morrer, nunca mais, porque precisava amamentar logo mais, porque precisava carregar meu filho no colo, pô-lo para dormir, trocá-lo, e trocá-lo de novo e de novo amamentar.
Precisava sentir seu bafo, trocar sua roupa após a regurgitada. Eu precisava vê-lo sorrir e falar e andar e cair e chorar e levantar. Precisava levá-lo à escola e à natação e a lugares que o fariam feliz; outros, triste, fazer o quê?
Eu precisava responder suas infindáveis perguntas, ajudá-lo com as lições de casa, estar pronta para deixá-lo experimentar cada sentimento, cada conquista, cada tombo, sabendo que sempre tinha uma casa para onde correr.
Agora eu era casa. Agora eu era dele. E agora eu era mãe, e jamais deixaria de ser. Nem morta. Presa numa armadilha perpétua da vida.
Caindo em um poço sem fundo, dobrada em mil partes, esmagada como o rascunho de um desenho péssimo, não sobrava espaço para meu bebê, a razão disso tudo.
Aquele bebê que queria desesperadamente amar. Que chorava e irritava e exauria.
Esquecia que era um bebê. Pensava que era uma máquina de enlouquecer.
Ressenti. Tive pensamentos horríveis. Jamais o faria mal, mas pensei no alívio que seria se tivesse uma morte natural. Bebês morrem, são frágeis. Uma pneumonia, um problema cardiovascular, algo que não tenha nada a ver comigo, fora do meu alcance, fora do espectro de culpa. Algo que me desse um luto simples e honesto de quem fez tudo o que podia para salvar o bebê, mas estava fora da sua alçada.
Ninguém imagina o quanto dói escrever isso. Assimilar essa cilada toda, colocá-la em palavras, ajuda, mas tem também seu lado perverso, de tornar mais nítidos os contornos daquela realidade.
Aí saía da catatonia e corria para ver se meu bebê respirava. Chorava, pedia desculpas. Me jogava no chão, para tentar sentir frio, sentir o aqui e agora, lembrar da minha humanidade, mas não conseguia.
Sonhava em ser livre de novo, mas não queria sair do seu lado, nem quando alguém me dizia para dar uma pausa e respirar o ar que não queria mais em mim.
Sentia-me, mais que assustada, assustadora. Uma desconhecida. Uma definição de abandono. Eu perdia o controle. A cordinha que tentavam me jogar era bem intencionada, mas sempre, sempre curta demais.

Ele mamava, mas eu queria mesmo é que a amamentação não desse certo para me livrar daquele fardo. Ele chorava e eu acordava num pulo. E ele acordava e eu chorava, chorava.
O mais difícil de engolir foi o para sempre. Toda essa emboscada, essa armadilha da vida, tudo era para sempre.
Perspectiva no escuro é utopia.
Ele dormia, eu me deitava também, os olhos pulsando de tanto chorar e os pontos e os seios doendo.
Quando não era um bebê chorando, eram esses lembretes do meu inferno pessoal. Exausta, cairia como pedra, certo? É claro que não. Eu fechava os olhos e tudo ficava pior. Quando finalmente vinha o sono, vinha violento, e, assim que eu sucumbia, acordava com apneia.
Parecia que estava há minutos sem respirar. O coração a milhão. O ciclo se repetia de quinze em quinze minutos.
A. Noite. Inteira.
A noite seguinte foi igual.
Eu agora tinha medo de dormir. Agora estava enlouquecendo mesmo, me perdendo num caminho sem volta. Simplesmente havia desaprendido a dormir, nunca mais conseguiria, teria surtos psicóticos e nunca conseguiria ser mãe.
O melhor seria se me internassem. Seria tão bom! Uma instituição cuidando de mim e eu não precisando cuidar de ninguém. Passando dias e noites no mais profundo silêncio, sem me mexer, sem ser mexida. Dopada. Sem amamentar.
Foi o primeiro de muitos momentos em que desejei e acreditei que a saída possível seria fugir.
Os sintomas começaram a se amontoar: perdi a fome, fiquei com o intestino solto devido à ansiedade, perdi a capacidade de tomar as decisões mais simples. Tive tremores violentos deitada na cama em posição fetal.
Alguns dizem que a descida do leite pode causar estes tremores. Para mim, era apenas mais um elemento de descontrole. Falei coisas a pessoas próximas e jamais lembraria. Tinha o olhar desesperado, arregalado, de uma criança esperando resgate nas ruínas de sua casa em chamas.
Estava paralisada por fora, mas por dentro era revolução. Um coração que poderia pulsar em três pessoas.

Olhava todos à minha volta e percebia que a vida de ninguém tinha mudado.
Pessoas acenavam e riam. Andavam devagar. Atravessavam a rua tranquilas. Escarravam no asfalto. Tomavam uma média na esquina e riam de alguma coisa que passava na TV. Esperavam o ônibus ouvindo música e balançando o pé ao ritmo. Conversavam num restaurante com o crachá pendurado. Saíam de uma loja com sacola na mão, felizes com a aquisição.
Todas estas pessoas tão superiores a mim. Todas tão mais capazes de viver a vida, não importa em que contexto. Dava a perna direita para ser qualquer uma delas, não importava sua realidade. Tinha certeza: ser qualquer um era ser mais feliz que eu.
Foi então que meu psiquiatra recomendou que alguém ficasse comigo dia e noite, sem sair de vista, nem eu, nem meu bebê. Respirei aliviada. Finalmente estavam entendendo a dimensão do meu desespero, o perigo que estava correndo.
Finalmente eu seria cuidada.
Por mais que durante a gravidez eu já temesse a DPP, jamais pensei que seria tão intensa, a ponto de chamar estes os piores dias da minha vida, a ponto de, por diversas vezes, me arrepender de ter adotado a estrada da maternidade.

A primeira vez que fui ao mercado depois do parto, achei que fosse me esvair pelos corredores.
Queria voltar para casa. Eu, aquela executiva orgulhosa, agora estava paralisada, incapaz de escolher entre feijão fradinho ou preto. Aquela mulher sagaz, agora não sabia responder se tinha ou não sabão em pó em casa.
Eu, a tomadora de decisões, senti o oposto se sobrepondo. Fiquei minúscula. Todos os mais tênues dos estímulos pareciam gritar, arranhar, cegar.
No meio das frutas, sem saber se comprava bananas ou melão, desatei a chorar.
Precisava voltar. Voltar correndo. Meu filho precisava de mim, eu precisava do meu sofá. Ele precisava de mim, eu precisava beber muita água. Meu filho precisava de mim, eu precisava ir ao banheiro de novo. O meu filho precisava de mim, eu precisava voltar para o lugar que conheço.
Meu filho precisava de mim.
Finalmente, meses depois, entendi: eu precisava muito voltar para ele também.

Depois de vinte e quatro dias, pela primeira vez desde o nascimento do meu filho, passei um dia inteiro sem chorar.
No vigésimo quinto, porém, a ressaca: de novo caindo, tentando achar o fundo do poço mais fundo, onde pudesse ficar quietinha, de joelhos, esperando o resgate, pelo menos tranquila de saber que o fundo já chegou e que piorar, mesmo, não iria.
É que enquanto estou caindo, não tenho a perspectiva de saber quando volta o ar, quando chega o final da queda e consigo ver novamente o tamanho da subida para, assim, recomeçar.
O vigésimo quinto dia foi aquele passo para trás antes de avançar de novo. O que foi bom passou a ser dúvida e, depois, finalmente, apenas um ponto fora da curva.
Continuaria sobrevivendo a um mata-leão por dia.
Esta doença é uma ladra. Ela rouba nossos momentos, rouba o que deveria haver de melhor nesta fase tão única que é o puerpério.
Esta doença trava, intimida, desdenha. Questiona certezas básicas que deveriam realmente continuar certezas. Perdemos este tempo precioso duvidando de nós mesmas e temendo prisão perpétua em um presente que nunca viraria passado. Temendo esse bebê, ainda tão bicho, tão primitivo.
Temendo não conseguir sorrir quando todos sorriem e exigem meu sorriso em troca.
E por mais que enxergasse depois de alguns meses um princípio de luz, entendo que em lugares assim, onde me encontrava, o chão é estéril. Nada cresce, nada vinga. Uma eterna entressafra, uma colheita para sempre longe do alcance.
Racionalmente, sei que entressafra sempre é passageira. Eventualmente algo vai nascer, crescer, se reproduzir, morrer. Mas não deixa de ser doloroso viver num limbo.
Não deixa de trazer consigo o medo de uma safra pífia, revirada por tornados, vai saber?
O mundo é tão louco. Tudo dependendo do sol, da chuva, do vento, da luz, do solo. Pouco dependendo do que foi realmente plantado.
Ninguém inventa isso, muito menos escolhe. Esta doença é real como um câncer, como um ataque cardíaco.
Existe, é física, continua aqui dentro, preta e brilhante, escorregadia, disforme, sem começo ou fim.
Maior que tudo: que eu, que você, que o mundo, que meu bebê. Nos ancora naquele oceano profundo e frio, com pessoas ao longe acenando, jogando beijos ternos, embrulhadas em jaquetas quentes, protegidas do vento. Que realidade perversa, que alegoria mais adequada do mundo.

Meses depois, a medicação atingiu sua máxima potência. Eu ainda sofria, tinha dias bons e ruins. Mas conseguia dormir. Meu bebê acordava, abria um sorriso banguela insuportável de lindo, e ia seco para o meu peito. Eu gostava.
Aprendi a brincar com ele, falar com voz fininha, esperar suas gargalhadas fáceis, que invariavelmente explodiam.
Estava tudo bem. Continuamos os três, eu, meu marido e meu filho, nesta longa e tortuosa e esburacada e quase linda estrada.
Todos acordados.
Queremos indicar também o livro Depois do Parto, A Dor, com um relato sincero e da atriz Brooke Shields estrelou o filme A Lagoa Azul. O livro ficou durante várias semanas no topo da lista dos mais vendidos do jornal New York Times e vendeu mais de 300 mil cópias.
“Não só a gravidez foi para ela algo extremamente difícil, como ao nascimento do bebê seguiu-se um sentimento devastador, que levou a pensar em atirar o carro contra o muro e morrer junto com sua filha.”
Escrito por: Bia Singer